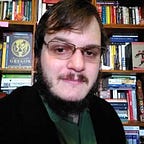Igreja e Causa Social
Explorações em escatologia e cosmologia
Na medida em que identificamos o núcleo escatológico do cristianismo, e se levarmos suas implicações a sério, não nos é permitido conservar quaisquer esperanças de tipo utópico e de tipo ideológico.
Para fins de precisão, separo “utópico” de “ideológico” porque utopia, diferentemente de ideologia, adere à tensão da realidade e não procura suprimi-la por falsa consciência. Será, nos termos de Cacciari (Ocidente Sem Utopias), mais um tipo de “ideia reguladora” do que um sistema, vislumbrando, no horizonte distante, a concretização de um ideal realizável através dos processos históricos, se bem dirigidos pelo homem — tem-se, então, uma imagem altamente concreta de um futuro supostamente possível e, ainda assim, uma imagem que não quer se apresentar de forma objetiva, porque traz aspirações sob formas tangíveis, mas que são mais “simbólicas”, as formas, do que propriamente literais. A ideologia, por seu turno, ocupar-se-á desde o princípio em falsificar a realidade, pretendendo, com isso, encobrir seu delírio com um superficial véu de realismo e dotando, assim, o ideal futuro de uma pretensa tônica fatalística, como imperativo decorrente não exatamente do empenho civilizacional, mas de determinados mecanismos impessoais e imanentes ao mundo material. O utopismo precede a ideologia genealogicamente, em sentido temporal, mas não necessariamente geneticamente, e insemina na modernidade um indelével traço de pelagianismo radical, podendo ser descrito como, e assim o faz Cacciari, “escatologia secularizada”. Está muito mais próximo do retorno da energeia pagã arregimentada no Renascimento, humanista no verdadeiro sentido do termo, do que no racionalismo e no éthos empirista das progressões cientificistas e historicistas cotejadas pelo Iluminismo, donde a ideologia, como nos ensina Oakeshott, não ser como a aristocrática visão utópica radicada no Uomo Singulare da Renascença, altamente elitista e aristocrática, mas um fenômeno visceralmente ligado à formação das sociedades das massas na exaustão e no colapso do Ancien Régime, nos alvores da era revolucionária.
As ideologias se servirão de doutrinas heretizadas…
Nas ideologias, diz-nos Kolakowski, fundem algo dos sistemas de fé antigos, o cristianismo, sobretudo, com uma superficialização e imanentização da linguagem científica, pela qual se consegue anular o apego simbolista, cosmológico e transcendental das antigas esperanças humanas, tão bem dirigidas pela religião tradicional, e desviá-las para finalidades sublunares, de matiz horizontal, societário e histórico. As ideologias terão, portanto, muito mais do cristianismo, porque próximas das multidões, do que as utopias, tão dividendas da emersão das potências genesíacas do paganismo clássico, mas se servirão de doutrinas heretizadas e, principalmente, de uma versão demiúrgica da escatologia. Aquilo que antes era símbolo, partícipe de uma estrutura cosmológica verticalizada, se desfigura na “coisa mesma”, e o mundo material deixa de apresentar-se como canal para o Hiperurânio das Formas Ideiais, para o Absoluto, para o Ser — recai-se da vereda finalista para a causal (Jung) e só sobram os particulares sensíveis e as leis que os regem.
É assim que o emprego do cientismo perverte a linguagem hierática da religião tradicional e o demótico invade todos os setores da vida pública, impondo um sistematismo que se quer objetivo por sobre todos os conteúdos da fé cívica, pervertendo-os no escopo restrito das causas material e eficiente — uma literalização tão fanática daquilo que seria metafórico, hieroglífico, característica das ideologias, é típica da obra de sujeitos paranoicos (Hillman). Diferentemente do tipo de escatologia do utopismo, a escatologia imanente das ideologias vai não na direção do humanismo supracitado, que é aristocrático e baseado em vigorosos processos civilizacionais, mas de um humanitarismo oclocrático (Babbitt). O processo escatológico será regido por uma dialética materialista, segundo supostos mecanismos da História que aparecem, na humanidade, a partir da polarização entre um genérico universalista de “pobres” e um genérico universalista de “ricos”, de cuja tensão, que deve se agravar ao máximo, se atingirá uma síntese última, pela qual terão chegado ao termo os processos históricos, acomodados em estase pela ausência de dualidade, o combustível dos “motores” do movimento temporal (donde o homem mesmo, arrastado por um imperativo infraestrutural do cosmos, se colocará no tempo “pós-histórico”). Do éthos aristocrático ao éthos oclocrático vemos uma degeneração do ponto das virtudes (ainda que no sentido paganizado de potência) para o dos afetos (importa operar para o bem-estar).
… qualquer “Nova Jerusalém” que se possa aguardar não será de natureza aristocrática e nem oclocrática, mas teocrática…
O cristianismo não é nem o paganismo renascido — que é outro e não exatamente o Antigo — do Renascentismo e nem algo menos do que religião tradicional, portanto, não literalizável — e, por isso, mais real do que as ideologias, porque dado às Verdades Eternas, apenas simbolizáveis (e, dessa maneira, mais próximas do que qualquer particular sensível [não limitadas, pois, espaço-temporalmente]). A escatologia cristã antecede qualquer espécie de utopismo, sendo a consumação e a radicalização da escatologia judaica. Instalada no seio do mundo greco-romano, jaz depurada por todo o cabedal lógico herdado dos filósofos pelos patriarcas da Igreja — aqueles, todavia, conheciam o Mundo desde um ponto de vista interno, a Arché, e não como obra, desde um ponto externo, do Criador, que fê-la ex nihilo, e embora se possa encontrar um tipo de escatologia entre os gregos (o mito platônico de Er Panfílio), ela é obra eminentemente judia, chegando ao zênite no suprassumo profético da Morte e da Ressurreição de Jesus e no recurso à cosmologia gentílica (com a Arché deslocada ao Aravot). Sabe-se, portanto, desde a Igreja Primitiva que qualquer “Nova Jerusalém” que se possa aguardar não será de natureza aristocrática e nem oclocrática, mas teocrática, uma eclosão da Transcendência desde o Alto, na Imanência, obra única e exclusiva do Criador e segundo o já revelado pelo Eschatos, o Cristo Senhor.
A atitude da Igreja em vista de tal estado de coisas foi, e desde o começo, aquela que é a única verdadeiramente justa: a espera. A ideia de “espera”, apresentada tantas vezes no Novo Testamento, não deve confundir pela trivilidade do termo — o “esperar” cristão é substancial. Espera-se, Corpo de Cristo, da fidelidade de Deus à Promessa, a realização plena daquilo que está prometido aos santos do Senhor desde antes da fundação do Mundo: ser Família de Deus junto da Seu Trono Eterno. Mais: o ressuscitar do Corpo da Morte no Corpo Espiritual, a Nova Criatura, ora inseminado pelo Espírito Santo no coração do crente enquanto Semente Divina e princípio da Nova Criação. O apóstolo Paulo, em vista dessas coisas e na redação da Primeira Epístola aos Coríntios, não considera outra atitude mais justa: que cada um permaneça na Vocação desde a qual fora encontrado por Jesus e que cada um continue a viver neste Mundo como se os aspectos de nossa presente vida tivessem mesmo algum valor — porque estamos desde já impregnados do senso de que nada, em vista do Eschatos, é de importância última, de maneira que devemos tirar bom proveito do “tempo que resta”, proveito segundo o “como se”, para que não nos apeguemos a nada que, n’última instância, pertença à Velha Natureza e ao Corpo da Morte, destinados à aniquilação completa. O bom proveito está, pois, em não implicar-se demais nas preocupações com os assuntos mundanos, como já antecipado por Jesus Cristo em sermão, lembrando que as calamidades são marcadores da esperança na Volta de Jesus, não motivos de desespero, e que as perseguições e privações que porventura venhamos a padecer são sinais da nossa filiação divina, porque o Mundo odiou a Cristo, e imperativos escatológicos — devemos saber, muito ao contrário das vãs esperanças humanistas e humanitaristas de “melhora do Mundo”, que tudo deverá piorar progressivamente nos Tempos e exponencialmente no Fim, porque as Trevas se tornarão mais densas e o Mal mais abrangente quanto mais perto estivermos do toque da Última Trombeta, ocasião na qual a Igreja, também santificada pelos martírios e continuamente consagrada e separada pelo contraste de sua Luz, será finalmente resgatada por Deus Filho Ressurreto.
… a Igreja é substancial e, Corpo de Cristo, cosmologicamente necessária e não acidental (ela não poderia não ser).
Esse autocentramento, essa ocupação na Espera, sinalizada pelo compromisso eucarístico, pelos batismos e pela retidão do makários, não pode fazer o cristianismo legitimamente se transtornar em causa social ou em fator de sistemática transformação cultural. Isso acontecerá, à medida em que falamos do cristianismo enquanto religião tradicional, como reflexo e irradiação da condensação, da fixação obstinada em si, enquanto Corpo de Cristo para a Morte e à vista do Corpo da Ressurreição. Lócus do Sagrado, morada do Espírito Santo na Terra, a Igreja, de tão retos que são seus membros, impressionará, e ao nível do constrangimento, os pagãos, e deverá existir enquanto um agente construtivo ou positivo no meio, se possível “caindo nas graças de todo o povo”. Mas esses “contágios” são incidentais, causados e justificados no apelo antieconômico, absoluto, primário e primeiríssimo, supratemporal e universal do Divino, o qual não é causado ou gerado na Igreja e nem pela congregação no ato do culto, mas que é a causa e a matriz da Igreja, ato no qual o próprio culto jaz encapsulado em potência e ato pelo qual o culto se atualiza — assim, a Igreja é substancial e, Corpo de Cristo, cosmologicamente necessária e não acidental (ela não poderia não ser). A Igreja, diferentemente das demais instituições humanas, tem por Causa Primeira a mesma Causa da Criação, sendo ela o início da Nova Criação no tempo profano: o Divino. Ela mesma será a causa segunda de tudo quanto produza a partir de si, que, nas condições necessárias, nasça de seu seio, mas que não obrigatoriamente causará, visto satisfazer-se suficientemente no circuito pístico do retorno imediato, através do culto, à Causa Primeira, já que contém dentro de si o Sagrado. O status de causa segunda corresponde aos efeitos moralizantes necessários da existência da Igreja dentro da sociedade, quando os canais de contágio e irradiação do Sagrado estiverem abertos d’além das portas da catedral. Todavia, repete-se, esses efeitos são causados secundariamente, pela influência da Igreja, e não primariamente, diretamente por Deus (é óbvio que Ele distribui liberalmente Sua Graça ao Mundo, permitindo os “nasceres do Sol”, mas aqui estamos falando de eclesiologia), e se efetivarão necessariamente se as condições exteriores o possibilitarem — donde a Igreja, causada por Deus e dedicada a Ele enquanto lócus do Seu culto, poder ficar sem gerar efeitos “redentores” na sociedade e, ainda assim, permanecer conservada na legitimidade de seu lugar cósmico. A ineficácia social da Igreja será acidental, não substancial, devida a fatores exógenos — por conseguinte, continuará sendo Igreja de todo e inequivocamente.
O fato de a Igreja ser substancial, não acidental, e existir necessariamente, não podendo não existir, justifica, sob a forma de uma religião tradicional, o vigor histórico do cristianismo na absorção e na assimilação da herança civilizacional gentílica, pondo confiantemente todas as coisas a orbitar ao redor do irresistível Centro, o Axis Mundi que é Cristo Redivivo. Ela pôde fazê-lo porque não é acidente das religiões clássicas e nem causada secundariamente por elas, pela cultura antiga e pela filosofia pagã, não vindo como movimento reativo, pautado na oposição e, portanto, preso àquilo contra o qual se opõe. Por vir de Deus e instalar-se transcendentalmente dentro do Mundo e no meio da História, porque houve Encarnação, pode rejeitar tudo e se servir de tudo simultânea e paradoxalmente.
[A Igreja] Se fez útil para o “Mundo” e para as finalidades intrínsecas da humanidade cadente.
No esquema escatológico, voltemos, o bloqueio da receptividade societária à influência moralmente construtiva da Igreja é inequívoco e cosmologicamente necessário — essa eficácia pública não decorrerá, portanto, exatamente da capacidade de a Igreja conseguir se colocar “lá fora”, estendida horizontalmente, mas de ela, lócus do Sagrado e santa na confirmação da esperança da Promessa, não ser resistida severamente pela sociedade. Trata-se, então, muito mais da abertura ou do fechamento do “Mundo”, de uma sua atitude, que é correspondente ao momento escatológico, do que de uma abertura ou de um fechamento da Igreja — porque ela é necessariamente fechada ao “Mundo”, no mesmo sentido em que o Sagrado não pode suportar a intrusão do Profano. Se não for assim, ela rapidamente recairá em proselitismo segundo a “contagem de moedas” e a Economia dos Homens — ou, como descreveu Kolakowski, se ideologizará para “continuar útil” para um “Mundo” que crescentemente a rejeita, sucumbindo ao que ele chama de “Grande Medo”, que não é resultado de outra coisa se não do esquecimento de sua vocação profética e escatológica, porque não soube discernir os Tempos e perceber que a crescente rejeição do “Mundo” contra ela tem sentido escatológico e dever ser lida simbolicamente, não demoticamente, e que procurar agradar ao “Mundo”, que a rejeita, não pode dar noutra coisa se não em dessacralização e esvaziamento de si, em mundanização e imanentização (como se agradaria o inimigo da Fé sem recair num tal expediente?). Se fez útil, enfim, para o “Mundo” e para as finalidades intrínsecas da humanidade cadente.
Não se trata, portanto e jamais de transtornar a Igreja nos termos das causas sociais, principalmente porque “causas sociais”, diferentemente da causa segunda da Igreja enquanto agente transformativo da sociedade, apela de antemão a uma sistematização de tipo doutrinário, o que sempre terá apelos ideológicos sedutores. É dito por Cristo à Sua Igreja que ela sempre teria os pobres consigo (Jo 12:8) e que essa realidade não deveria sobrepor a sua vocação originária e primordial, que é a do culto ao Senhor, daquele Corpo que cresce conforme são acrescentadas à congregação, via Boa Nova, a “medida dos gentios”. Diante do Sagrado, sua causa e seu objeto, o imperativo da “contagem de moedas”, tão caro a Judas Iscariotes, fica em segundo plano, porque a Economia dos Homens não é idêntica à Economia da Salvação. Com a perspectiva da piora, não da melhora do Mundo, a Igreja é pressionada à aceitação tácita da permanência do Mal, que durará e intensificará até a Volta do Senhor Jesus — nesse sentido, o Mal é visto como ontológico, não contingente, uma parte intrínseca da Criação Caída e o motivo mesmo da necessidade escatológica da aniquilação da Velha Natureza, e não uma espécie de camada de ferrugem impregnada nas coisas e nas pessoas.
… a “presença dos pobres” é virtualmente insuportável para os ideólogos.
O Mal, ontológico, nunca poderá ser arrancado e eliminado pelo esforço humano, donde o imperativo de a Igreja, enquanto Espera, saber suportar a presença do Mal e das consequências do Pecado e da Morte numa tensão constante e a partir de uma resoluta postura de aderência à realidade. Se, todavia, encararmos o Mal como contingente, algo de quantitativo, tal como o fazem os utopistas e os ideológicos, seremos tentados à militância redentora de eliminação universal do sofrimento como se essa fosse uma vocação da Igreja, não uma atribuição exclusiva de Cristo. Essa atitude perverterá a aderência da Igreja à realidade, porque não assumirá a pobreza e as demais misérias da vida humana como consubstanciais à Queda e frutos tardios do Pecado Original, frutos que mesmo os cristãos carregam na própria carne, mas como erros “cálculo”, “injustiças históricas”, falhas que pedem por urgente reparação. Dessa maneira, o pobre deixará de ser visto primeira e diretamente enquanto um homem feito à Imagem e Semelhança de Deus e por quem Cristo morreu, para se tornar um problema estatístico, um erro evitável, alguém que não deveria “estar lá” — a vítima de um crime. Um entendimento tal, o do Mal contingente, não se subordina à presença do Mal e à coexistência, sob tensão, com a miséria, o que significa que a “presença dos pobres” é virtualmente insuportável para os ideólogos.
… a benevolência de Judas é capaz de desviar o “desperdício” dos perfumes unção do Rei Morrente…
Não é necessário um grande esforço, em vista do supracitado, para entender a diferença manifesta entre o amor despendido pelo cristão bem formado e a “empatia” dispensada pelo reformador social quando da manifestação do pobre, do doente, do símplice. Essa diferença será melhor apreendida em um termo: piedade. E se desvelará em dois movimentos distintos, embora de similar fenômeno: aquele vai se encontrar com um homem, este vai de encontro à pobreza ou qualquer outra abstração análoga. O primeiro dará ao nu, de duas túnicas, uma, retendo a outra para si, e acompanhará o viajante não uma, mas duas milhas — ele se vê diante de um igual e não se importará em tocar leprosos quando do encontro humano com o desamparado. Isso é diferente daquele socorro burocratizado, não raramente bem-vindo, mas habitualmente subjugador, impregnado da distinção entre um superior, que é provedor, e um inferior, que deve ser provido. Porque a benevolência de Judas é capaz de desviar o “desperdício” dos perfumes unção do Rei Morrente para dar montões e montões de víveres aos necessitados, mas sempre o fará como aquele que, dando muito, acaba por mostrar que tudo pode, que muito tem, e assim se envaidece, porque assume não mais do que mera “forma de piedade” — ao ponto de, quem sabe, parar a mão da viúva pobre para poupá-la do nobre ato da dedicação de “tudo quanto tem” ao Senhor, recebendo honras dela e por ela e destacando à “mão esquerda” o feito da “mão direita”.
Texto de minha autoria (como os demais deste canal) originalmente publicado em meu perfil pessoal do facebook em 26 de maio de 2024.